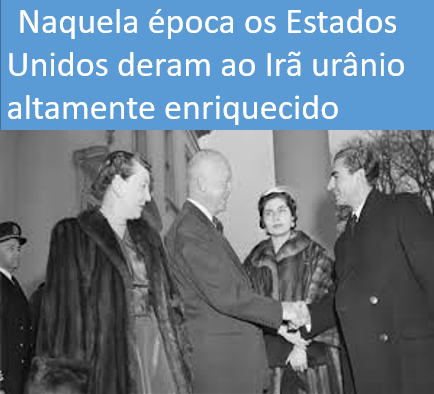
Naquela época os Estados Unidos deram ao Irã
urânio altamente enriquecido
Os libertários frequentemente apontam as incoerências das políticas externas americanas e israelenses. Em nenhum lugar isso se evidencia com mais clareza do que nas relações entre os Estados Unidos, Israel e o Irã ao longo das últimas sete décadas.
Em junho passado, Estados Unidos e Israel conduziram bombardeios ao Irã sob o pretexto de impedir um suposto programa de armas nucleares e para destruir um suposto estoque de urânio altamente enriquecido (HEU). No entanto, contrariamente ao senso comum, o governo dos EUA teve papel decisivo no início do programa nuclear iraniano ainda em 1957, no âmbito da iniciativa Átomos para a Paz do governo americano. Para a primeira instalação de pesquisa nuclear do Irã, o Reator de Pesquisa de Teerã — que entrou em operação em novembro de 1967 — Washington forneceu combustível HEU com enriquecimento de 93% de U-235. Em 1993, por meio de um acordo nuclear com a Argentina, esse reator foi convertido para usar combustível HEU a 20%. Ainda em 1974, o Irã do Xá planejava construir vinte e três reatores nucleares com assistência dos EUA, para fins de energia civil, a fim de possibilitar uma maior exportação de petróleo.
Até a Revolução Iraniana de 1977–1979, que derrubou o Xá Mohammad Reza Pahlavi, o Irã era aliado dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Israel. Como muitos acadêmicos de relações internacionais destacam, a Revolução Iraniana representou um recuo frente à intervenção operada pela Operação Ajax (1953) — a derrubada do primeiro-ministro democraticamente eleito Mohammad Mossadegh, substituído pelo regime autocrata do Xá. Após 1979, o Xá foi substituído por Aiatolá Ruhollah Khomeini, que não aceitava permanecer sob a órbita de Washington.
Entre as décadas de 1950 e 1970, o establishment da política externa dos EUA presumiu erroneamente que o Irã figurararia sempre como governo pró-EUA. Mesmo pouco before da queda do Xá, a CIA subestimava a popularidade do regime entre o povo iraniano e acreditava que sua posição como líder do Irã era inatacável.
O governo iraniano sob Mossadegh, nacionalizando a indústria petrolífera em março de 1951, é parte essencial dessa narrativa. A indústria petrolífera iraniana era administrada pela Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), entidade público-privada britânica na qual Londres detinha participação majoritária. Em uma concessão de 1901, o quinto xá Qajar Mozaffar ad-Din Shah Qajar havia outorgado à Grã-Bretanha 84% dos lucros da receita petrolífera iraniana; o Irã ficaria com apenas 16%. Nos anos que antecederam a nacionalização, a Grã-Bretanha se recusou a renegociar a divisão de lucros.
Poucos meses antes, em dezembro de 1950, o consórcio de empresas petrolíferas ocidentais — mais tarde denominado Aramco (associado a Chevron, Texaco, Exxon e Mobil) — aceitou dividir 50% dos lucros do petróleo com o governo da Arábia Saudita, então sob a liderança de Ibn Saud. O entendimento saudita gerou pressão para que o Irã renegociasse sua participação de 84% a favor da Grã-Bretanha. O pano de fundo econômico — concorrência por recursos estratégicos e ganhos de influência — moldou, na prática, as escolhas políticas que seguiram.
A Grã-Bretanha, por sua vez, já detinha a maioria das ações da AIOC por quase quatro décadas antes do golpe de Mossadegh. Antes da Primeira Guerra Mundial, o engajamento britânico na AIOC era consolidado sob a égide de políticas geopolíticas de domínio imperial, que continuaram a influenciar decisões até o século XX. Quando Churchill assumiu o posto de Primeiro-Ministro, a postura frente ao Irã mostrou continuidade com o histórico de resistência a acordos que garantissem uma renegociação equitativa dos lucros.
Israel manteve, ao longo de décadas, uma relação de cooperação e serviço com o Irã, antes da Revolução de 1979. O Xá adquiriu equipamentos militares israelenses, em grande parte fabricados nos EUA e no Reino Unido. Durante a Guerra Irã-Iraque (1980–1988), Israel desempenhou papel de apoio logístico e técnico ao Irã, inclusive no fornecimento de peças para aeronaves e tanques, bem como de pneus para caças-bombardeiros F-4 Phantom II. Em 1980, relatos indicaram que dezenas de milhões de dólares em armamentos foram trocados entre Israel e o Irã, financiados pela exportação de petróleo iraniano para Israel, operando bem antes do caso Irã-Contras.
O Irã, por sua vez, compartilharia informações com Israel durante os oito meses seguintes ao fracasso inicial de destruir o reator iraquiano de Osirak, em 1980. Embora O Osirak tenha sido um reator com finalidade civil, ele operava sob salvaguardas da AIEA, diferentemente das acusações contra o programa iraniano de armas nucleares. Documentos do New York Times, publicados por Seymour Hersh em 1991, indicaram que as vendas de armas israelenses para o Irã atingiam somas bilionárias por ano, com pagamento em grande parte em petróleo iraniano, ocorrendo anos antes do episódio Irã-Contras, e com a continuidade do apoio americano a Israel, mesmo diante de esses vínculos.
A perspectiva de Adam Smith e Frederic Bastiat — de que o comércio livre e o intercâmbio de bens entre nações sob padrões justos de troca é preferível à conquista, colonização ou imposição de mudanças de regime — oferece uma lente para entender como relações econômicas mais abertas, em teoria, poderiam favorecer um modus vivendi estável entre EUA, Israel e Irã. Steven Kinzer, em Todos os Homens do Xá, aponta que Estados Unidos e Grã-Bretanha já exploraram acordos que asseguravam condições de exportação que beneficiassem os interesses de ambas as potências, ao menos em parte como resposta a pressões de nacionalização e mudanças de regime.
Conclusão: há espaço para um entendimento que ressoe com princípios de cooperação e negociação, sem violência, entre Estados Unidos, Israel e Irã. A história mostra que já houve momentos de distensão entre esses atores, mesmo após a Revolução de 1979. Se um acordo de convivência pacífica for desejado, é possível delinear um modus vivendi baseado em interesses comuns, comércio justo e respeito às soberanias nacionais — ao invés de sanções, invasões ou mudanças de regime impingidas de fora.